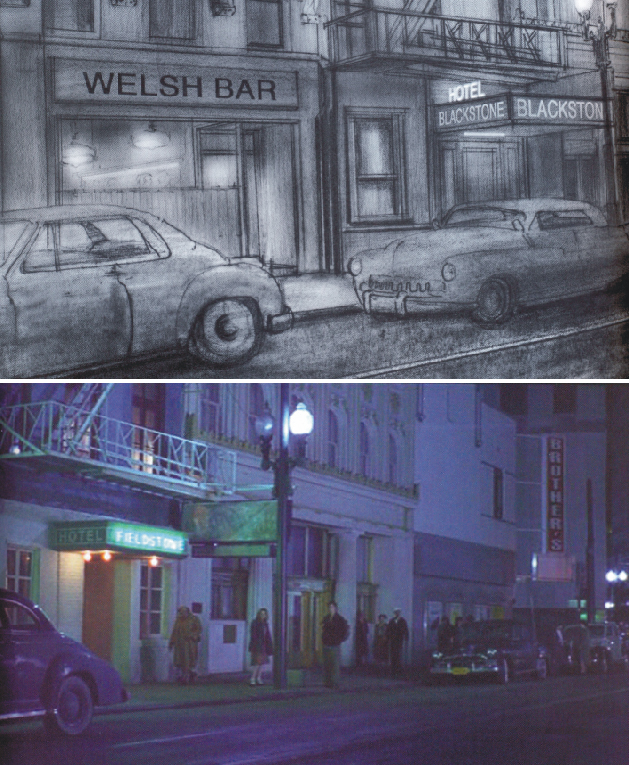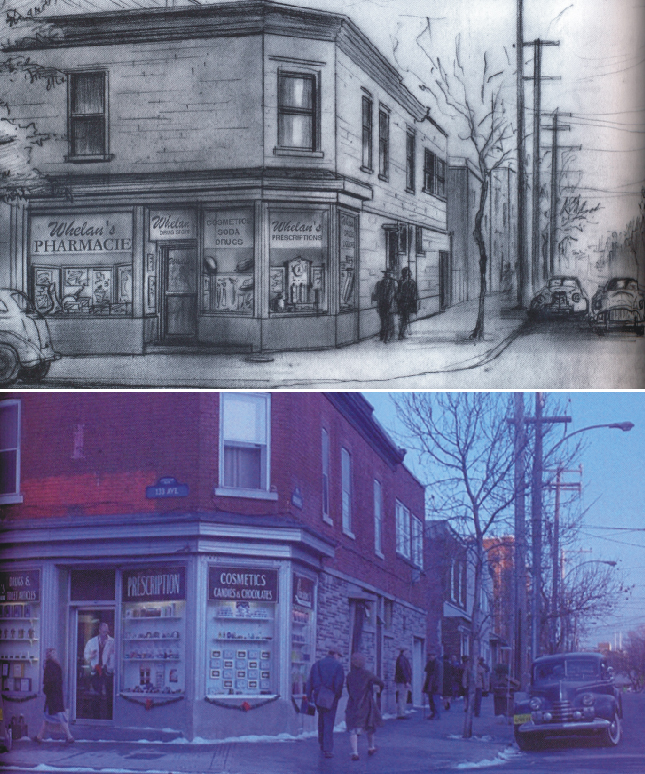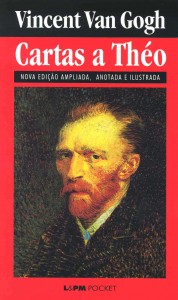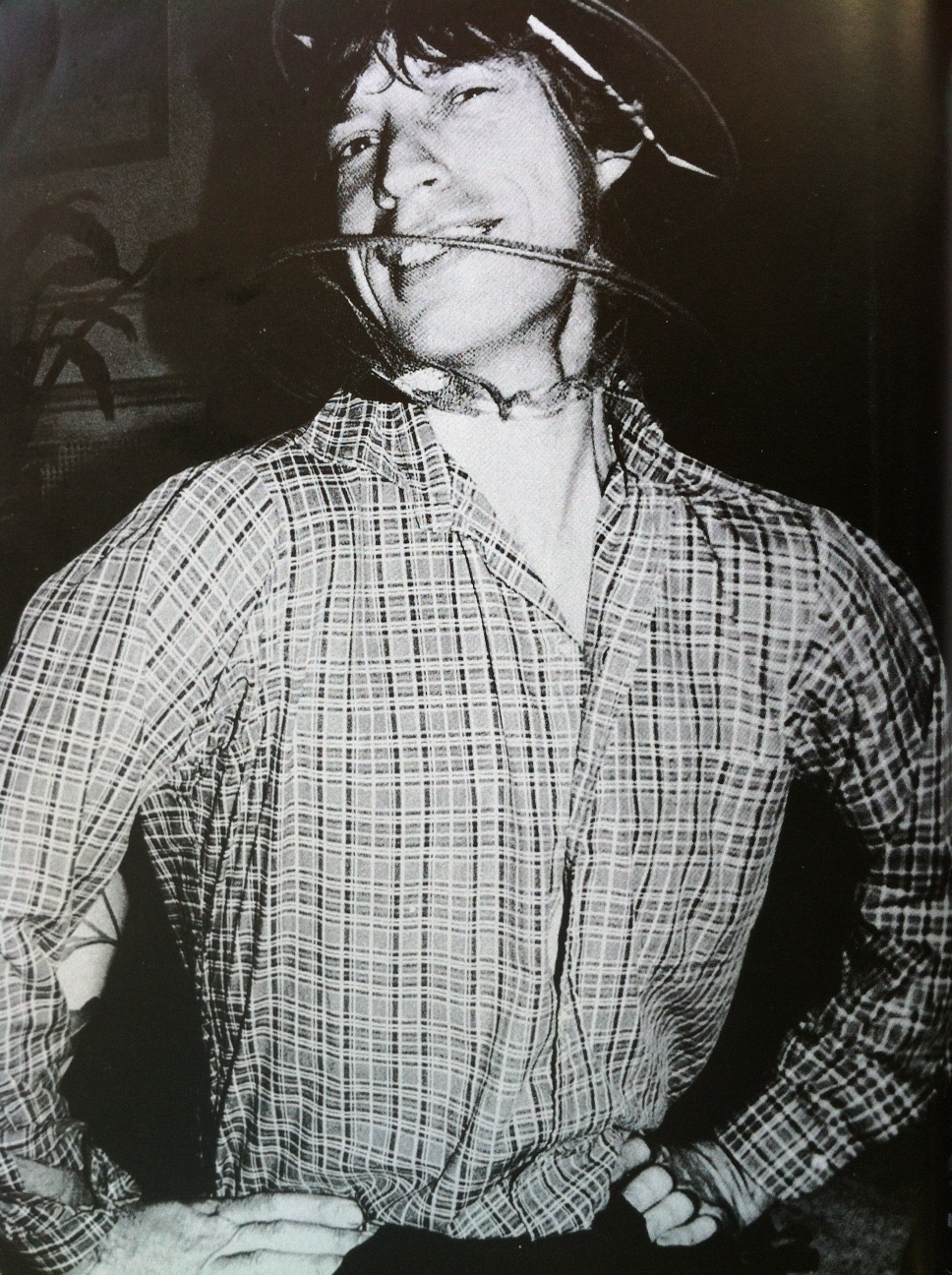“Na estrada”
Por Contardo Calligaris*
Assisti a “Na Estrada”, de Walter Salles, na sexta passada, no Rio. E passei o fim de semana pensando na minha vida.
Li “Na Estrada”, de Jack Kerouac, no fim dos anos 1960, provavelmente em Nova York -mas talvez em Houston. O texto que eu li era uma versão expurgada; isso, na época, eu não sabia. Não voltei ao texto em 2007, quando a Viking publicou o manuscrito original (em português pela L&PM). Mas o texto voltou em mim com força, na sexta-feira, quando assisti ao filme.
Nos anos 1960, eu era um hippie lendo um “beat”. Na mesma época, “Almoço Nu”, de William Burroughs, me seduzia, mas me assustava -longe demais de minha experiência (das drogas, do sexo e da vida). Também lia Allen Ginsberg e Gregory Corso, mas, aos dois, preferia Lawrence Ferlinghetti -outra escolha “bem comportada”, dirá alguém.
O fato é que “Na Estrada” foi a parte da herança “beat” da qual eu me apropriei imediatamente. Por quê? As drogas, o álcool ou o sexo “livre” me pareciam secundários -apenas um jeito de dizer: “Não esperem que a gente viva como manda o figurino”.
O essencial, para mim, era a junção da fome de aventura com uma raivosa vontade de escrever. A vida se confundia com um projeto literário que exigia os excessos: era preciso viver intensa e loucamente, de peito aberto, para que valesse a pena contar a história. Por isso, eu e outros podíamos, ao mesmo tempo, venerar Kerouac e Hemingway -os quais, álcool à parte, provavelmente, não se dariam.
Pensando bem, eu fui mais um “beat” atrasado do que um hippie. A procura por iluminações interiores e comunhões cósmicas da idade de Aquário, tudo isso me parecia pacotilha para “Hair”, coisa da Broadway. Fiz minha peregrinação à Índia e ao Nepal, mas considerava com desconfiança o orientalismo que estava na moda: o budismo dos anos finais de Kerouac e Ginsberg não me parecia mais sério do que o hinduísmo dos Beatles.
O problema é que eu era um espécimen bastardo: “mezzo” hippie e “mezzo” maio-68 francês, “mezzo” descendente dos “beats” e “mezzo” filho marxista do pós-guerra europeu.
Kerouac não tinha simpatia pelo marxismo. Ele preferia o individualismo dos que procuram uma fronteira para desbravar -pouco a ver com um projeto de reforma social ou de revolução. Para os “beats”, aliás, transformar a sociedade seria um problema. Certo, Neal Cassady e Gregory Corso passaram tempo na cadeia; e Burroughs, Kerouac e Ginsberg foram censurados. Mas, justamente, num mundo que não lhes resistisse, a vida dos “beats” perderia sua dimensão épica.
Ao longo dos anos 1970 e 1980, fazendo um balanço, eu teria dito que, em mim, a herança marxista europeia prevalecera sobre a herança “beat”. Hoje, penso o contrário -não sei se por decepção política ou por maturidade. Mas não tenho muitas certezas: por exemplo, minha errância pelo mundo foi uma experiência da estrada ou uma versão “chique” do cosmopolitismo forçado dos trabalhadores modernos?
E será que vivi como um fogo de artifício? Ou então durar e continuar vivo se tornou, para mim, mais importante do que me arriscar na intensidade das experiências?
O filme de Salles está sendo a ocasião imperdível de um balanço -ainda não decidi se festivo ou melancólico. Cuidado, o balanço não interessa só minha geração. Cada um de nós pode se perguntar, um dia, como resolveu a eterna e impossível contradição entre segurança e aventura: quanta aventura ele sacrificou à sua segurança?
Essa conta deveria ser feita sem esquecer que 1) a segurança é sempre ilusória (todos acabamos morrendo) e 2) qualquer aventura não passa de uma ficção, um sonho suspenso entre a expectativa e a lembrança.
Que você tenha lido ou não o livro de Kerouac, e seja qual for sua geração, assista ao filme e se interrogue: se uma noite, inesperadamente, Neal Cassady tocar a campainha de sua casa, louco de aventuras para serem vividas e com o olhar fundo de quem dirige há horas e ainda quer se jogar na estrada, você saberia e poderia, sem fazer mala alguma, simplesmente ir embora com ele?
*Este texto foi publicado originalmente na coluna de Contardo Calligaris no caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo no dia 19 de julho de 2012.