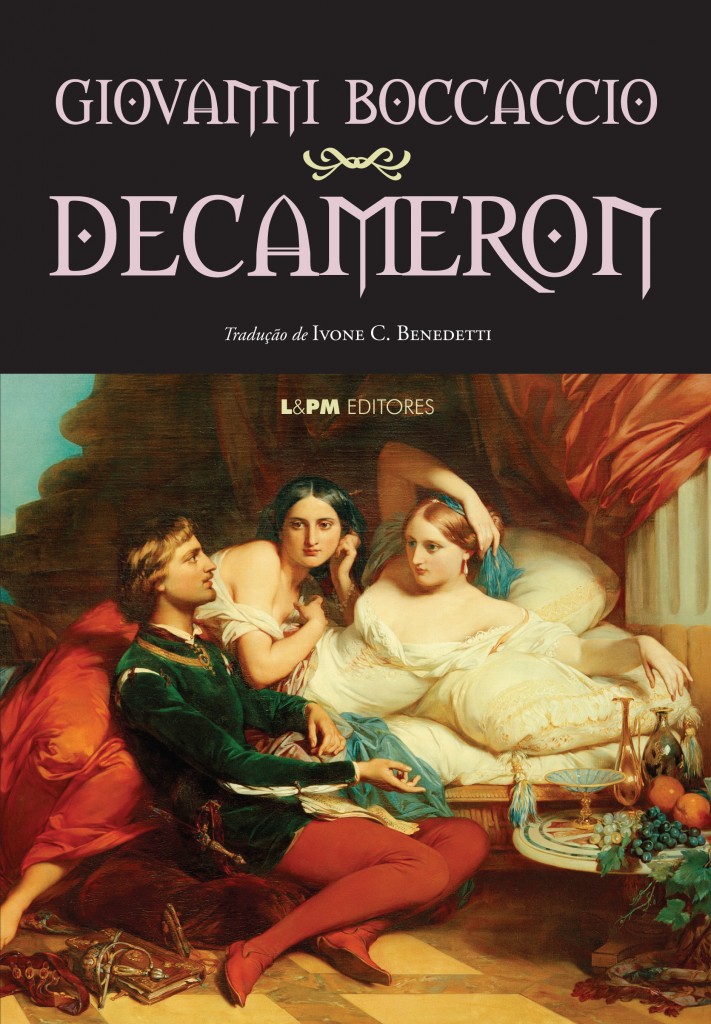 Quando a L&PM, através de sua editora Caroline Chang, me sugeriu a tradução do Decameron, aceitei com entusiasmo, por perceber a pertinência da iniciativa. Ao contrário do que acontece com muitas obras que já caíram em domínio público — verdadeiros best-sellers sem direitos autorais —, das quais é possível encontrar várias traduções concomitantes e inexplicáveis no mercado, o Decameron completo não contava com nenhuma recente tradução para o português do Brasil. Convido quem quiser conhecer um levantamento das diversas edições da obra durante o século XX no Brasil a visitar o site “não gosto de plágio”, de Denise Bottmann. Farei aqui um breve resumo do levantamento que lá está para dar uma ideia da importância da iniciativa. A primeira tradução brasileira completa de que se têm rastros é assinada por Raul de Polillo e data de meados do século passado. A segunda edição integral data de 1970 e é assinada por Torrieri Guimarães. No entanto, conforme pôde ser constatado, em artigo da revista Língua Portuguesa, pelo Prof. Gabriel Perissé e confirmado por Denise e por mim, trata-se da mesma tradução de Polillo, maquiada por algum copidesque. Portanto, salvo engano, tudo indica que no Brasil apenas um tradutor se dedicou à tradução integral dessa obra, antes da iniciativa da L&PM, e esse tradutor se chama Raul de Polillo. Antes e depois desse trabalho e até os dias de hoje, foram lançadas várias traduções de novelas avulsas, em coletâneas ou não, por várias editoras, algumas assinadas por nomes ilustres. Por que essa carência da tradução completa? A primeira resposta que me vem à mente é o extremo esforço necessário à empreitada, tanto por parte da editora quanto do tradutor. Trata-se de uma obra extensa, que demanda muito tempo de trabalho, portanto grande empenho individual de quem traduz e gastos consideráveis com os quais só uma grande editora pode arcar. Em segundo lugar, é uma obra escrita num estado do italiano pouco dominado pela maioria dos tradutores em atividade no mercado brasileiro. Em terceiro lugar, no Brasil, com as contínuas republicações da pseudotradução de Torrieri Guimarães, o mercado tinha a impressão de estar suficientemente “abastecido” de Decameron. Eu mesma na juventude o li numa edição de 1971 da Abril Cultural. Em quarto lugar, a “seleção” das novelas mais agradáveis, digeríveis ou atraentes, segundo critérios de mercado, parecia satisfazer a curiosidade dos leitores e os interesses das editoras. Com isso nos acomodamos.
Quando a L&PM, através de sua editora Caroline Chang, me sugeriu a tradução do Decameron, aceitei com entusiasmo, por perceber a pertinência da iniciativa. Ao contrário do que acontece com muitas obras que já caíram em domínio público — verdadeiros best-sellers sem direitos autorais —, das quais é possível encontrar várias traduções concomitantes e inexplicáveis no mercado, o Decameron completo não contava com nenhuma recente tradução para o português do Brasil. Convido quem quiser conhecer um levantamento das diversas edições da obra durante o século XX no Brasil a visitar o site “não gosto de plágio”, de Denise Bottmann. Farei aqui um breve resumo do levantamento que lá está para dar uma ideia da importância da iniciativa. A primeira tradução brasileira completa de que se têm rastros é assinada por Raul de Polillo e data de meados do século passado. A segunda edição integral data de 1970 e é assinada por Torrieri Guimarães. No entanto, conforme pôde ser constatado, em artigo da revista Língua Portuguesa, pelo Prof. Gabriel Perissé e confirmado por Denise e por mim, trata-se da mesma tradução de Polillo, maquiada por algum copidesque. Portanto, salvo engano, tudo indica que no Brasil apenas um tradutor se dedicou à tradução integral dessa obra, antes da iniciativa da L&PM, e esse tradutor se chama Raul de Polillo. Antes e depois desse trabalho e até os dias de hoje, foram lançadas várias traduções de novelas avulsas, em coletâneas ou não, por várias editoras, algumas assinadas por nomes ilustres. Por que essa carência da tradução completa? A primeira resposta que me vem à mente é o extremo esforço necessário à empreitada, tanto por parte da editora quanto do tradutor. Trata-se de uma obra extensa, que demanda muito tempo de trabalho, portanto grande empenho individual de quem traduz e gastos consideráveis com os quais só uma grande editora pode arcar. Em segundo lugar, é uma obra escrita num estado do italiano pouco dominado pela maioria dos tradutores em atividade no mercado brasileiro. Em terceiro lugar, no Brasil, com as contínuas republicações da pseudotradução de Torrieri Guimarães, o mercado tinha a impressão de estar suficientemente “abastecido” de Decameron. Eu mesma na juventude o li numa edição de 1971 da Abril Cultural. Em quarto lugar, a “seleção” das novelas mais agradáveis, digeríveis ou atraentes, segundo critérios de mercado, parecia satisfazer a curiosidade dos leitores e os interesses das editoras. Com isso nos acomodamos.
No entanto, ao nos satisfazermos com essa prática fragmentária, esquecemos que o Decameron é uma obra unitária, sustentada por uma moldura, que em si já merece consideração, conforme bem mostra Vittore Branca em sua obra fundamental, Boccaccio medievale. Essa segmentação inevitavelmente contribui para a criação de um conceito parcial, portanto em grande parte falso, sobre o autor e sua obra, conceito que foi capaz de alimentar o público leitor por décadas a fio.
Logo após o entusiasmo provocado pela proposta da editora, nasceu em mim a preocupação com o tipo de público a que minha tradução se dirigiria. No meu trabalho com algumas editoras (entre as quais não se inclui a L&PM), tenho observado de maneira mais ou menos generalizada a existência de um preconceito que atribui certas peculiaridades ao público brasileiro. Na verdade, parece ser um tipo de atitude que vigora em todas as mídias, talvez ensinada nas escolas de jornalismo – e aqui estou fazendo ilações –, que seria representada mais ou menos pela seguinte frase: o público brasileiro é inculto, é preciso evitar afugentá-lo com palavras ou construções “difíceis. Esse mito (que realimenta dialeticamente uma eventual incultura) já criou diversos embaraços para mim: em algumas ocasiões precisei enfrentar preparadores de textos que sistematicamente substituíam palavras menos usuais, embora de tradução correta e precisa, por coisas vagamente assemelhadas, pertencentes muitas vezes a um arrevesado espectro de sinonímia, esquecidos tais preparadores de que quem se dá o trabalho de comprar um livro já pertence a um estrato predisposto a enfrentar o desconhecido e por alguma razão é estimulado a aprender coisas novas. Felizmente não é esse o perfil da L&PM. Digo felizmente porque o enfrentamento de uma obra desse tipo exige do tradutor, segundo o meu conceito de tradução, a coragem de oferecer certo estranhamento ao leitor. Um estranhamento com o qual, paradoxalmente, o leitor seja capaz de se familiarizar, ou seja: mesmo criando algo deglutível em obediência às injunções do mercado, traduzir de modo que, obedecendo a critérios estritos de teoria da tradução, se ofereça à particularidade brasileira do século XXI um núcleo irredutível daquele Boccaccio que atravessou séculos e nos chegou através de seus inúmeros avatares. Em outras palavras, seria preciso extrair de Boccaccio seus traços pertinentes e oferecer ao leitor um texto que fosse irredutivelmente Boccaccio, já não o sendo em sua forma originária.
E a pergunta nesses casos é a de sempre: que entrelugar criar, para que o universo trecentista italiano não deixe de ser ele mesmo, ainda que transposto para o universo brasileiro de nossos dias?
Como trocar esse paradoxo em miúdos? Todos sabemos que o Decameron foi extensamente divulgado e lido na Itália desde sua publicação. Conscientemente ou não, Boccaccio escreveu para um público que não o desmentiu. Porque ele não o renegou: como esclarece Vittore Branca, ele era lido pela burguesia endinheirada que fazia a glória financeira de Florença e das outras cidades italianas por toda a Europa, era lido pela casta dos mercatanti, dos mercadores. Boccaccio soube valer-se da língua que já alcançara maturidade suficiente e criou com ela um sistema narrativo que constitui uma verdadeira arquitetura de falares. A perenidade dessa obra é resultado disso, da comunhão perfeita entre um escritor e um público. Coisa nada pacífica em nossos dias, aliás desde o fim do século XIX, quando o artista renegou sua classe de origem, a burguesia, e se exilou na torre de marfim, deixando campo livre para os mercenários. E, diante de um artista que comungou com um público e foi por ele acolhido, abstraindo agora as questões atuais de mercado, não parece coerente fazer uma tradução que se negue ao público leitor em virtude de, por exemplo, sua ilegibilidade. O ideal seria fazer uma tradução que esse púbico degustasse com a mesma satisfação com que o público original de Boccaccio o degustava. Questão de coerência, a meu ver. E, se ele fez rir o público florentino do século XIV, seria muito interessante também fazer rir o público brasileiro do século XXI. Se fez chorar, idem. Etc. E aqui, divagando um pouco, ocorre-me a lúcida tese de Auerbach, defendida em Linguagem literária e seu público no fim da antiguidade latina e na Idade Média, que consiste no seguinte: uma produção literária em língua vulgar, de cunho semelhante ao que vicejara na Antiguidade, só foi possível quando surgiram classes instruídas capazes de fomentá-la. Boccaccio parece ter encontrado esse ambiente preparado. Sua obra, portanto, foi comunicada. Estabeleceu-se assim o diálogo, a dualidade que constitui a condição de fruição da obra literária. Assim, pondo de lado o falso dilema que estabelece uma oposição entre a ida do leitor ao autor e a vinda do autor ao leitor, sempre foi líquido e certo, para mim, que é preciso estabelecer, entre a visão do presente e a do passado, aquilo que em hermenêutica se chama de fusão de horizontes, encontrando-se o horizonte mais adequado de indagação para as questões suscitadas pelo encontro com a tradição, ou seja, encontro do presente do leitor com o passado do escritor. Dentro da práxis e de seus ditames é sempre preciso encontrar alguma forma de estabelecer o encontro entre esses dois polos, pois sem leitor todo autor é inócuo, porém o leitor sempre precisa estar disposto ou ser guiado a dar alguns passos em direção ao autor. Mas quem será esse leitor? Claro está que não há resposta óbvia. O tradutor, assim como o escritor, em sua atividade sempre tem em mente um leitor médio ideal, que pode ou não corresponder à média da assimilação dos leitores reais. Para o editor, por sua vez, que desembolsa o preço de uma tradução-edição-impressão-distribuição, o melhor é que o número de leitores capazes de degustar e deglutir a obra seja o maior possível. Esse imperativo ditado pela práxis evidentemente colide com o outro, de trazer ao leitor o Boccaccio mais Boccaccio possível, e é no núcleo dessa tensão que se encontra o tradutor. Mas, assim como dessa tensão nascem os problemas, dela surgem as soluções. Há, pois, uma injunção da práxis que deve ser observada por todo tradutor que atue no mercado, ou melhor, o tradutor prático, aquele que é obrigado a operar diariamente o devido ajuste entre seu fazer e o saber teórico angariado, atuando o tempo todo dentro de um equilíbrio instável que, terminada a tradução, só se revela aos olhares mais percucientes. Essa injunção é: instaurar uma relação dual obra-leitor, para que a existência da obra se justifique pela satisfação intelectual ou artística do leitor. Se Boccaccio teve seu público, e teve, de que modo pode ser justificado qualquer trabalho de tradução que alije um público em nome de conceitos mal digeridos de fidelidade ao autor? Por outro lado, embora seja necessário oferecer a possibilidade de ler Boccaccio, como honestamente oferecer ao leitor algo que não seja Boccaccio?
É sempre assim que se configura a perplexidade de um tradutor que tenha em mãos um texto construído segundo elementos radicalmente estranhos à cultura que se convenciona chamar “de chegada”.
A meu ver, para equacionar esse problema é preciso levantar alguns dados de historicidade e conhecer os traços pertinentes da obra, ou seja, aqueles que não podem ser escamoteados sem que o autor se descaracterize como tal. Esse levantamento corresponde a uma análise literária e abrange no mínimo os aspectos cultural, lexical, sintático e retórico.
Os dados culturais presentes em qualquer obra ficcional, que se manifestam através de sua trama, por meio da expressão de usos, costumes, juízos e valores, constituem a contribuição mais rica que a tradução pode dar aos leitores para o conhecimento de outros horizontes. Foi sempre a tradução uma fonte riquíssima desse tipo de saber. Não tratarei aqui desse aspecto, essencial, cujas soluções não me parecem problemáticas, salvo casos esparsos.
O segundo aspecto mencionado, lexical ou terminológico, em Boccaccio — como de resto em qualquer autor que tenha escrito num estado de língua muito diferente do atual –, constitui um problema de grande relevância, porque muitas das palavras usadas, embora formalmente reconhecíveis como ainda existentes no léxico italiano, nem sempre portam em si os significados que têm agora. Lidar com textos desse tipo requer razoáveis conhecimentos de etimologia e gramática histórica. A desatenção a esse dado pode ser fonte de grandes equívocos, pois o contexto, que em geral alerta para a inadequação de algum sentido, pode deixar de ser percebido ou ser suficientemente ambíguo para induzir em erro. Mesmo assim, nesse nível não se encontram a meu ver as maiores dificuldades para o equacionamento da transferência de traços pertinentes, desde que o tradutor seja competente. Nesse caso, tem-se aí apenas uma questão de foco semântico. O maior problema, em minha opinião, reside nos dois últimos aspectos.
Com efeito, um texto problemático do ponto de vista da diacronia semântica, depois de devidamente traduzido, poderá deixar poucos indícios de traços identificadores de uma época ou de um autor, desde que os hábitos sintáticos do estado da língua em que ele escreve sejam semelhantes aos atuais. Tomo como exemplo Voltaire. Uma parte dos vocábulos usados no século XVIII por Voltaire, embora ainda pertencentes à língua francesa em seu estado atual, mudaram de significado, mas a sintaxe voltairiana, mesmo que não idêntica à atual sintaxe francesa, é fundamentalmente semelhante. Isso significa que ela não causará perplexidade. O tradutor não precisará definir uma tática especial para lidar com ela. Em Boccaccio a questão é bem diferente. A estrutura sintática observada por ele, estrutura clássica, latinizante, se mantida num texto escrito em português atual, produzirá uma leitura impossível. Pois bem, então é preciso modificá-la. Até que ponto fazê-lo, sem desfigurar a fisionomia de uma cultura, sem abolir a pátina do tempo, segundo a feliz expressão de Paulo Rónai? Aí está o núcleo do dilema do tradutor. Sua escrita caracteriza-se pelo chamado período tenso (sobretudo nas partes argumentativas), que é essencialmente protático, ou seja, a enunciação da primeira parte, chamada de prótase, vai preparando lentamente a enunciação da parte final, chamada apódose. A prótase, formada por uma sucessão de orações subordinadas, cria um suspense, sabendo o leitor que só chegando ao final do período conhecerá o núcleo de seu significado. Costumo fazer uma analogia entre essa construção e a série de acordes de uma cadência tonal, a preparar a tônica que deverá instaurar o repouso final. Essa analogia não me parece descabida, mas seria presunçoso e temerário tentar desenvolvê-la agora. A destruição de um encadeamento tenso desse tipo costuma produzir como resultado um texto de tônus bem diferente: se o núcleo de significado aparecer antes de tudo, fala-se em período frouxo. Nossa civilização não está acostumada a tais “cadências protáticas longas”. Somos a civilização da asserção direta, da exposição imediata do significado principal, ou, quando não, em havendo necessidade de alguma preparação, espera-se que esta seja curta e inevitável. No entanto, se é possível adivinhar preferências e intenções até mesmo em frases simples enunciadas de modo diferente, como “se você vier jantaremos” ou “jantaremos se você vier”, que dizer de sequências complexas, feitas sob medida para o enunciado de alusões e pressupostos? Portanto, como preservar essas nuances sem destruir uma marca registrada, sem transformar a clássica prosa de Boccaccio num enunciado pragmático, de feição a transmitir informações rápidas, nos moldes da nossa civilização apressada, que tem por secundário e acessório aquilo a que antes se dava preeminência? Observe-se a organicidade de um período, como por exemplo este, do proêmio:
Mas, como quis Aquele que, sendo infinito, ditou a lei imutável de que todas as coisas do mundo devem ter fim, meu amor, que era mais fervoroso que qualquer outro e não pudera ser destruído nem vergado por nenhuma força de vontade, sensatez, vergonha evidente ou perigo que dele pudesse decorrer, com o passar do tempo diminuiu sozinho, a tal ponto que em minha mente deixou de si apenas o prazer que de hábito ele concede a quem não tenha navegado por seus mais tenebrosos pélagos.
De que outro modo percorrer os meandros representados por pressupostos, conclusões e consequências, sem destruir todo um arcabouço hierarquizado de topoi, que se encontra por trás desse enunciado?
Pois bem, o Boccaccio que escrevia para a casta dos mercatanti do fim da Idade Média era um conhecedor das normas da escrita clássica. Escrevia em vulgar com sintaxe clássica. Perfeita relação dialética, como, aliás, ocorre com a sintaxe de toda a boa prosa toscana ao longo daqueles séculos gloriosos. Ferir esse tipo de encadeamento, a meu ver, é destruir seu tônus, enfraquecê-lo. No entanto — cabe complementar, retomando ideia a que já aludi acima —, a estrita e cega observância da sequência de causais, finais, consecutivas, condicionais e comparativas, em suas formas desenvolvidas ou reduzidas, a caminharem pachorrentamente para a solução final, pode produzir um labirinto conceitual no qual o leitor moderno se perderia com facilidade, gerando um tédio mortal. Isso sem falar dos frequentes anacolutos. É preciso ter liberdade de escolher os caminhos, mas uma liberdade guiada. Hoje, nossa prosa, brasileira, costuma ser acusada de anomia, de falta de critérios coesos para construções e usos. Pode ser verdade. No entanto, o que há de positivo nisso é a maleabilidade que facilita traduzir os traços idissioncrásicos de culturas longínquas no tempo ou no espaço, sem a coerção de observar normas rígidas ditadas por critérios mais ou menos subjetivos, como por exemplo a elegância. Essa característica, que marca a forma de escrever hoje, também marca a de traduzir, numa evolução ocorrida desde o início do século XX, com resultados que também oferecem ensejo para sérias críticas, mas esse é um assunto que demandaria demoradas reflexões e análises, que não cabem aqui.
Depois de abordar o tônus sintático e fazer um paralelo com a forma de construção da harmonia tonal, devo finalmente falar em ritmo e prosódia. É aí que se fazem sentir os paralelos mais evidentes entre prosa e música, inclusive em termos de nomenclatura. Aliás, na Idade Média, essa união era inerente à escrita artística. Música e poesia sempre andaram juntas e durante muito tempo pareciam inseparáveis porque em geral juntadas por uma só e mesma pessoa. Apenas com o aumento da complexidade das técnicas musicais, justamente do fim da Idade Média para o Renascimento, os praticantes de cada uma dessas artes passaram a atuar separadamente. A verdade é que a prosa boccacciana, como bem demonstra Vittore Branca, pauta-se por conceitos como o de cursus (cursus planus, tardus e velox) e cláusula, presente em quase todo o texto do Decameron. O homem formado pelas artes liberais da Idade Média aliava as ciências retóricas às ciências dos números. A música, como ciência da aplicação da teoria dos números, permeava tudo. O canto está na raiz do sistema de versificação em línguas vulgares. No século XIII poesia e música pertenciam ambas à mesma ciência do ritmo. As leis dos números garantiam-lhes até uma espécie de transcendência metafísica. A filosofia de Platão, que inspirava o De Musica de Boécio, ainda constituía a base de teorias como a Ars Rithmica de João de Garlândia, para quem o ritmo é um princípio do universo. Não caberia aqui me prolongar nessa interessantíssima intersecção existente entre arte literária e arte musical na Idade Média. Apenas gostaria de lembrar que não há sombra dela nos dias de hoje, o que torna inócua para a quase totalidade dos leitores a presença de algum ritmo premeditado em meio à prosa. A música deixou de ser considerada fundamental na formação educacional de nossos jovens. Hoje os alunos têm dificuldade até para identificar sílabas tônicas e não tônicas. Não deverá passar de bizantinismo para os ouvidos pragmáticos a noção de que toda prosa tem um ritmo, de que esse ritmo pode ser intencional e meticulosamente construído, de que a sua presença consegue produzir fruição estética. Tentar arquitetar uma tradução totalmente orientada pelo requinte de coadunar significados na construção de um eixo significante válido na língua de chegada, como se faz na tradução de poesia, é tarefa hercúlea a que nem sempre é possível dedicar-se. Mesmo assim, em alguns momentos tentei reproduzir certas cadências, fazendo questão de preservar o que havia de penetrante e resoluto, sem tentar substituí-lo pelo caricioso e hesitante, de jamais ferir a concisão em nome de pretensas preferências estéticas, de conservar a sensação de fôlego sempre renovado, sem a pausa longa do ponto, respeitando a abundância de pontos-e-vírgulas, conservando a retomada insistente das ideias em frases iniciadas pelo aditivo “e”, como se nada nunca se acabasse, e tudo fosse o contínuo que leva da primeira à centésima novela, de modo que uma coisa se soma sempre à outra, estando tudo suspenso dos lábios de um narrador que não tem pressa, que emite sua narrativa como um cantor a entoar um melisma.
Se fui bem-sucedida só o leitor poderá dizer.